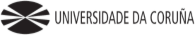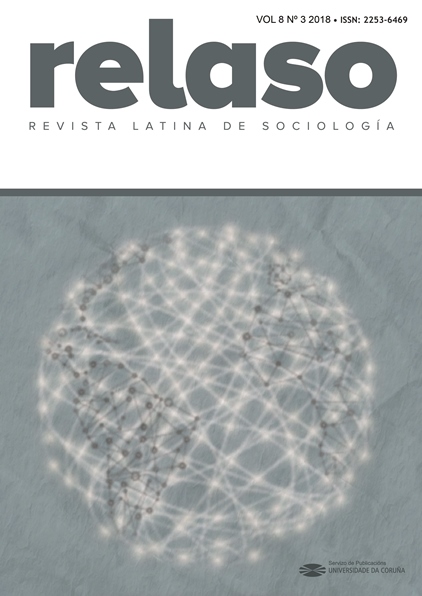Um Elemento de Reencontro Identitário Pessoal e Social no Câncer de Mama
Contenuto dell'articolo principale
Abstract
Durante o processo quimioterápico, mulheres perdem seus cabelos e, com eles, referenciais estéticos e identitários do seu corpo feminino social e cultural. Nesse processo, embora haja outros sentimentos envolvidos, como, o confronto com a morte, fatores estéticos que abalam sua identidade e autoestima encontram-se como um dos principais incomôdos para elas. Assim sendo, acredita-se que o uso de um acessório de moda, como o chapéu, possa coadjuvar, criando mais conforto e bem-estar, enquanto as cabeças dessas mulheres estiverem sem cabelos. A presente pesquisa encontra-se inserida no contexto mencionado e teve, como objetivo, compreender a forma como o chapéu pode ser relevante no percurso identitário dessa mulheres, no sentido de suprir a falta social e pessoal do cabelo durante o tratamento, Por meio da antropologia aplicada, desenvolveu-se uma oficina do chapéu para mulheres acometidas pelo câncer, em uma cidade do Sul do Brasil, as quais, além de usá-los, confeccionaram o acessório. A etnografía foi o método escolhido para coletar os dados, sendo que se atuou como observadora participante e se realizou entrevistas não-diretivas e semiestruturadas. Concluiu-se que o chapéu, além de ser um auxiliar durante o processo de reconstrução identitária, foi um elemento que afastou as usuárias da estigmatização da doença.
Downloads
Metriche
Dettagli dell'articolo
Riferimenti bibliografici
Angrosino, M. (2009). Etnografia e observação participante. Porto Alegre: Bookman Editora.
Araújo, L. (2012). Livro dos cabelos. São Paulo: Leya.
Aureliano, W. A. (2009). “... e Deus criou a mulher”: reconstruindo o corpo feminino na experiência do câncer de mama. Estudos Feministas, 17(1), 49-70.
Bastide, R. (1972). Antropología aplicada. Buenos Aires: Amorrortu.
Brandão, C. R. (2007). Reflexões sobre como fazer trabalho de campo. Sociedade e Cultura, 10(1), 11-27.
Carvalho, F. (2010). A moda e o novo homem. Rio de Janeiro: Azougue Editorial.
Castilho, K. (2004). Moda e linguagem. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi.
Castilho, K. & Martins, M. M. (2005). Discursos da Moda: semiótica, design, corpo. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi.
Chevalier, J. & Gheerbrant, A. (2016). Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. Rio de Janeiro: José Olympio.
Geertz, C. (1992). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.
Geertz, C. (2014). O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Petrópolis: Vozes.
Goffman, E. (1988). Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: LTC.
Goldenberg, M. (2002). Nu & Vestido: dez antropólogos revelam a cultura do corpo carioca. Rio de Janeiro: Editora Record.
Goldenberg, M. (2010). O corpo como capital: gênero, casamento e envelhecimento na cultura brasileira. Revista Redige - Senai Cetict, 1(1), 192-200.
Goldenberg, M. (2011). O corpo como capital: para compreender a cultura brasileira. Arquivos em movimento, 2, 115-123.
Guber, R. (2004). El salvaje metropolitano: Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Buenos Aires: Paidós.
Le Breton, D. (2011). Antropologia do corpo e modernidade. Petrópolis: Vozes.
Leach, E. (1997). Cabello mágico. Alteridades, 7(13), 91-107.
Macedo, N. (2017). Laerte-se, o documentário: um soco elegante no Brasil deste século. Recuperado de http://www.diariodocentrodomundo.com.br/laerte-se-o-documentario-um-soco-elegante-no-brasil-deste-seculo-por-nathali-macedo/
Oliveira, C. L., Alvez de Sousa, F. P., Lima Garcia, C., Kerntopf Mendonça, M. R., Alencar de Menezes, I. R. & De Brito Júnior, F. E. (2010). Câncer e imagem corporal: perda da identidade feminina. Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, 11, 53-60.
Piñero Aguiar, E. (2015). Observación Participante: una introducción. Revista San Gregorio, 1, 80-89.
Pinto, A. C., & Gióia-Martins, D. F. (2006). Qualidade de vida subseqüente à mastectomia: subsídios para intervenção psicológica. Revista SBPH, 9(2). Recuperado de http://www.pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S15 16-08582006000200002
Pisoni, A. C. (2012). Dificuldades vivenciadas por mulheres em tratamento para o câncer de mama. Rio Grande do Sul: Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau (2015). Blumenau, Brasil. Recuperado de http://www.redefemininaccblu.com.br
Sant’Anna, D. B. (2014). História da beleza no Brasil. São Paulo: Contexto.
Santana, B. (2014). Mulher, cabelo e mídia. Revista Communicare - Dossiê Feminismo, 14(1), 134-143.
Silva, L. C. (2008). Câncer de mama e sofrimento psicológico: aspectos relacionados ao feminino. Psicologia em Estudo, 13(2), 231-237. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/pe/v13n2/a05v13n2.pdf
Souza, C. B., Bacalhau, M. R., Moura, M. J., Volpi, J. H., Marques, S. G., & Rodrigues, M. R. (2003). Aspectos da motivação para o trabalho voluntário com doentes oncológicos: um estudo colaborativo entre Brasil e Portugal. Revista Psicologia, Saúde e Doenças, Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde. Lisboa, IV(2), 267-276.
Souza, N. H. A. (2014). Aspectos psicossociais resultantes do câncer de mama. Florianópolis: Universidade de Santa Catarina.
Velasco, H. (2007). Cuerpo y Espacio. Símbolos y metáforas, representación y expresividad de las culturas. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.